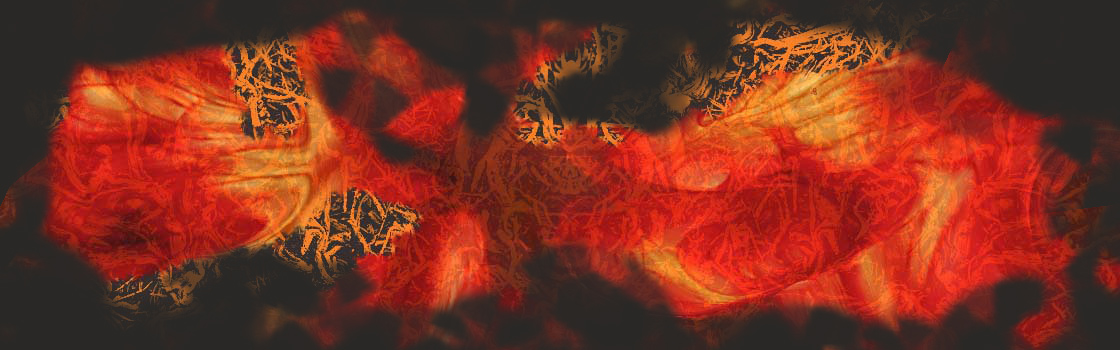Aqueles que não vemos – I
Maltucs
Despertou no exato instante que Michele fechou a porta. Ouviu, ainda, a chave girando no mecanismo, uma, duas vezes. Marcos sempre saía antes da esposa, sempre duas horas antes. O Maltuc esfregou as mãos enquanto terminava de acordar as partes do corpo. Era hora de descer, ler o jornal que Michele deixava sempre sobre a mesa da sala; alimentar-se um pouco e fazer a ronda.
Antes, como ato compulsório, observou a tela do celular e, no pouco brilho, viu mensagens no grupo da família. Arregalou os olhos e os grânulos negros de dentro de suas órbitas se expandiram. Conseguia, então, entender os algarismos e símbolos aleatórios e torcia o lábio de preocupação. Lúcio convocava todos para uma reunião. Irritante juntar os seis da cidade assim. Não eram seres sociais, nem coletivos, reuniões eram problemáticas. Gostavam mesmo da evolução da humanidade, celulares eram um bom brinquedo para conversar com os outros familiares, usando símbolos e regras que só uma mente de seu povo conseguia entender. Afinal, ninguém da empresa telefônica ou de qualquer órgão de governo decifraria a comunicação em códigos de sua espécie.
Suspirou... era bom se preparar, sua irmã “Sefh-olhos-demais” estaria lá e tinha um cheiro ruim.
Abriu o vão entre as tábuas do forro da casa e escorreu para o chão. No caminho, já tomava uma forma que se aproximava de um humano, mas mais alto, membros mais compridos, mais numerosos; e uma expressão endurecida como couro seco ornando o que seria sua face. Cheirou a casa, Michele e Marcos não estavam, mas seus odores corporais eram sentidos. Depois visitaria o cesto de roupa suja para sorver mais um pouco daquela vida.
Andou ou escorreu, afinal sua forma era entre o sólido e o fluído, chegando à sala. Sentou na poltrona impregnada pelo sabor e cheiros da mulher, gostava da forma como os cabelos perdidos dela, presos ao estofado, encostavam em suas costas nuas e faziam promessas de uma plenitude que só o corpo dos vivos possui. Leu devagar o jornal, leu cada notícia como se fosse um evento. Pernas cruzadas, refletindo e analisando enquanto assoviava baixinho uma música que aprendera num navio durante a Segunda Guerra.
Leitura completa, deixou o jornal exatamente no mesmo lugar. O dom de sua espécie lhe permitia saber onde cada coisa deveria ficar apenas por ter olhado previamente o objeto ocupando um espaço. Começou a ronda, a louça suja na pia da cozinha, a torneira ainda pingando. Observou a cena com deleite, vendo a marca de batom no copo, o resíduo de iogurte de ameixa no fundo, as facas sujas de geleia e manteiga. Após uma infinidade de minutos respirando aquela cena, deglutindo aquela desorganização tão humana, foi capaz de quebrar o encanto um pouco. Entretanto, logo se percebeu encostando a ponta de uma de suas unhas no copo sujo e fazendo movimentos circulares acompanhando sua borda. Era saboroso, era vida, era tão cheio de caos.
Fez o mesmo na privada com as gotículas de urina, com os pelos pelo chão do banheiro e nos respingos d’agua perto dos vasos com plantas que Marcos insistia em regar todos os dias. Observou pela janelinha alta, tornando seu corpo alongado como uma cobra que contornava toda a basculante, e viu a criança do vizinho andando pelo pátio ao lado, teve nojo. Não era um de seus humanos, não havia relação. Não havia sentimento por aquela vida.
Como sempre, levou horas na meditação de várias partes da casa, não precisava do rito todos os dias, mas sempre que o fazia, sorvia as emoções, as cenas, os sabores de cada um daqueles momentos de vida. Seus pés tocavam hora no piso e hora nas paredes e, no entrelaçar de sensações, podia sentir cada gosto, cada nuance. Era como se pintasse em sua mente uma obra de arte para depois devorar cada milímetro.
O ápice, sempre deixado para o final, era o cesto de roupas sujas, havia ali algo de belo, de sublime, era o cheiro da carne, os odores viscerais de seus humanos. Escolhera Marcos e Michele há dois anos e vivia uma relação de profundo amor, e posse, com estes. Vestiu nas narinas os odores das roupas de dormir do casal, o suor, os alumbramentos que os sonhos causavam e toda sorte de humores e fluídos que naquelas peças de roupa podiam existir.
Nas roupas de trabalho da mulher, encontrou os resíduos da aula do dia anterior, crianças humanas, cheiros das ruas e dos veículos, cheiros da queda do crepúsculo e do cansaço. Cada pedacinho de vida era um deleite. Nas roupas de Marcos sentiu as nuances da empresa, os cheiros de colegas e depois uma nota de vinho barato, cheiros de um quarto que não era da casa e de uma companhia que não era Michele. Sentiu ódio do homem, sentiu algo que uma criança sentiria se um de seus brinquedos lhe traísse. Era um cheiro que já havia aprendido a identificar, era uma colega de trabalho de Marcos. Guardou as roupas nas mesmas formas dobradas e bagunçadas que os humanos fazem com a roupa suja.
Escorreu, flutuou pelas paredes e pelo tempo da casa até a cozinha, abriu a geladeira e se deixou levar pelo frio e cheiro de vegetais em suava decomposição, a alface não prestava mais para consumo humano, mas a negligência a mantinha ali há dois dias, uma das maçãs, no fundo da gaveta, estava murcha e perdida por mais tempo. Sentado, geladeira aberta, pensamentos quentes. Ódio de Marcos. Como teria uma família perfeita assim? Logo agora que tinha planos de fazer nascer um bebê e ter mais um ocupante na habitação?
A raiva desfigurava e reconfigurava as formas, Maltucs eram assim sua condição moral afetava seu corpo físico. Se concentrou numa mancha de um respingo no fundo da geladeira, era molho, algo que sujava a parede fria e branca. A nódoa vermelha parecia um respingo de sangue e trouxe ideias. Teve ideias. A geladeira, sem dúvida, era o melhor lugar da casa para observar e pensar. Sem amante, sem problemas! Sua mente era rápida, ainda tinha a maldita reunião na semana. Não podia contar à família que seus humanos estavam com um problema. Não podia!
Voltou às roupas sujas, pegou cheiros e criou, com seus poderes, uma forma de achar o elemento que perturbava a sua equação familiar perfeita, aquela mulher que ousava acabar com sua família. No pente de Marcos, juntou cabelos suficientes para engolir e começar a assumir a forma do homem. Não gostava daquele recurso, mas era necessário. Vestiu algo do homem no guarda-roupas embora soubesse que não seria visto por pessoas ou câmeras pois sabia os truques da manipulação do tempo, queria que a mulher visse o rosto de Marcos sorrindo enquanto sua vida se esvaísse e usar a roupa dele ajudaria a compor o quadro. Depois maltrataria o traidor também, podia tecer pesadelos e fazer horrores demais numa alma se ficasse revoltado como estava.
Usou algumas moscas que sobrevoavam as bananas da bandeja de frutas na mesa da cozinha e, com seus corpos sacrificados e um pouco dos próprios fluídos corporais, forjou uma chave para abrir e fechar a casa. Saiu. Sabia o que fazer, voltaria mais tarde, voltaria antes que Michele e Marcos chegassem.
Texto: Filipe Tassoni
Revisão: Morrigan Ankh
Imagem: Filipe Tassoni